“Ninguém é normal”: livro aborda origens do estigma de transtornos mentais
Roy Richard Grinker explica as origens dos preconceitos em torno da saúde mental e defende a aceitação da neurodiversidade como aspecto inerente à condição humana.

O tema da saúde mental está ganhando cada vez mais espaço, à medida que nos conscientizamos da diversidade humana e da necessidade de aceitação e compreensão. Em seu mais recente livro, “Ninguém é Normal” (Editora Arquipélago), o renomado antropólogo e pesquisador Roy Richard Grinker mergulha fundo nesse debate, desafiando conceitos arraigados sobre o que é considerado “normal” e explorando as origens do estigma em torno dos transtornos mentais.
Inspirado por sua própria jornada pessoal e acadêmica, Grinker traça um panorama abrangente sobre como a cultura molda nossas percepções sobre saúde mental. Desde sua infância em uma família com uma longa linhagem de psiquiatras até sua experiência como pai de uma filha autista, o autor oferece insights valiosos sobre a interseção entre cultura, estigma e neurodiversidade.
Em “Ninguém é Normal”, o norte-americano destaca a importância de repensar nossos ideais e valores sociais, enfatizando a inclusão como aspecto fundamental da diversidade humana. Ele desafia a noção de que a normalidade é uma ilusão prejudicial criada pela cultura e argumenta que os transtornos mentais são mais comuns e afetam a todos nós de alguma forma.
Nesta entrevista exclusiva para a Vida Simples, Grinker compartilha ainda mais sobre sua visão e experiência, abordando questões importantes sobre saúde mental e neurodiversidade. Aprofundando-se em suas pesquisas e reflexões, ele oferece uma perspectiva inspiradora e esperançosa sobre um futuro em que a diversidade mental é celebrada e aceita como parte integrante da experiência humana.
Poderia nos contar um pouco sobre o que o inspirou a escrever “Ninguém é Normal”? Como foi o processo de pesquisa e escrita desta obra?
Transtornos mentais são uma das maiores causas de incapacidade no mundo; no entanto, eles são subtratados, mesmo nos países mais ricos. Em todo o mundo, os profissionais de saúde mental afirmam que o estigma é a maior barreira ao tratamento. E apesar de tanto esforço de educação e sensibilização, o estigma persiste. Eu queria descobrir de onde veio o estigma da doença mental e como podemos minimizá-lo. Se o estigma é a maior barreira aos cuidados, por que não fazemos mais pesquisas e financiamos mais pesquisas sobre o tema? O trabalho sobre o estigma é ofuscado pela pesquisa biológica, genética e neurológica, mas a pesquisa nessas áreas nunca reduziu o estigma.
Você discute em seu livro a ideia de que o estigma em relação aos transtornos mentais é principalmente cultural, não biológico. Como você vê o papel da cultura na perpetuação e na desconstrução desse estigma?
Não estamos programados para julgar, menosprezar ou marginalizar pessoas que estão sofrendo. Se estamos programados para alguma coisa, é para cuidar das pessoas que sofrem! Mas a realidade é que todas as sociedades têm valores, e elas impõem esses valores aos outros. Nos tempos modernos, sociedades moldadas pelo capitalismo – e até mesmo aquelas que tentam rejeitar o capitalismo – ainda valorizam um tipo particular de pessoa e desvalorizam outro. Valorizam pessoas que atendem aos ideais capitalistas de independência, autonomia, autocontrole e produtividade. Quando alguém não consegue alcançar esses ideais, e identificamos a razão como sendo sua mente ou personalidade, tendemos a desvalorizá-las.
Dado que agora sabemos que o estigma não é causado pela ignorância, e que os esforços de conscientização e educação falharam em erradicar o estigma, precisamos adotar uma estratégia diferente. Essa estratégia envolve repensar muitos de nossos ideais. Podemos valorizar a pessoa que depende dos outros? Será que Podemos valorizar a pessoa que é menos eficiente do que outras? Podemos valorizar a pessoa que não deixa sua família de origem para estabelecer um lar social e economicamente independente?
Ver essa foto no Instagram
Algo que me chamou a atenção em sua obra é a ênfase na neurodiversidade e na inclusão como aspectos fundamentais da diversidade humana. Como você acredita que podemos promover uma cultura mais inclusiva e compassiva em relação aos transtornos mentais?
A neurodiversidade compreende uma série de condições diferentes, como autismo, dislexia e TDAH, como parte da gama normal de diferenças na função cerebral individual. A ideia por trás do termo é semelhante àquela por trás da “biodiversidade”, de que existem muitas variações no comportamento humano que fazem parte da natureza – e do que significa ser humano – e que não devemos pré-julgá-las. A inclusão começa não com compaixão, mas sim com o entendimento de que os ambientes sociais que criamos podem impedir as pessoas de desenvolverem seus talentos e alcançarem seus sonhos. Se um empregador não contrata alguém porque julga negativamente as habilidades sociais do candidato – assim como as pessoas tomam decisões baseadas em outros tipos de discriminação – eles podem estar perdendo um talento incrível. Outro ponto-chave é que devemos encorajar pessoas com uma variedade de deficiências a correr riscos. Sempre encorajamos pessoas que não são neurodivergentes a correr riscos na vida – por exemplo, através da educação, emprego – mas frequentemente desencorajamos pessoas com deficiências a correr riscos porque não queremos que falhem. Mas falhar faz parte do ser humano, e na maioria das vezes as pessoas se saem muito melhor do que esperamos.
Você cresceu em uma família com uma longa linhagem de psiquiatras (e pelo que pesquisei de sua vida, também se casou com uma!). Como foi essa experiência de viver em um ambiente tão imerso na psiquiatria e como isso influenciou sua perspectiva sobre saúde mental e estigma?
Minha infância, como a de qualquer pessoa, teve seus altos e baixos, mas aprendi uma lição muito importante: todo mundo sofre e sofrer é ser humano. Mas também aprendi que a doença mental traz um fardo extra: primeiro, a própria doença e depois, em segundo lugar, o julgamento da sociedade. E tão importante quanto isso, nós julgamos a nós mesmos negativamente quando estamos doentes porque compartilhamos a mesma cultura daqueles que nos julgam.
Além disso, você menciona sua filha Isabel, que é autista. Como foi para você, enquanto pai e pesquisador, lidar com o diagnóstico de autismo de sua filha e como isso moldou sua compreensão sobre a diversidade neurocognitiva e a necessidade de aceitação e apoio na sociedade?
Isabel foi diagnosticada com autismo em 1993, e naquela época eu sabia muito pouco sobre autismo e, é claro, não sabia nada sobre a palavra neurodiversidade. O termo foi cunhado alguns anos depois e só se tornou conhecido fora de certos círculos recentemente. Se a palavra estivesse disponível, talvez eu a tivesse usado, mas não em um sentido extremo. Há pessoas que não consideram o autismo ou outros exemplos de neurodiversidade como doenças ou deficiências. E isso pode funcionar para algumas pessoas que, embora lutem com a comunicação no contexto social, precisam de apoio mínimo. Isabel precisava de muito apoio – terapias, tratamentos e educação especial – e, portanto, nossa apreciação por ela era mais sobre apreciar o progresso que ela fez ao longo de sua infância, e não necessariamente sobre apreciar a neurodiversidade em si. A grande lição que aprendi foi comparar Isabel consigo mesma – ver o quanto ela tinha avançado – em vez de comparar Isabel com um ideal imaginado de “normalidade”.
Vi que você tem uma extensa experiência em pesquisa sobre autismo e transtornos mentais em diferentes contextos culturais, incluindo na África Subsaariana e na Coreia do Sul. Como essas experiências influenciaram sua visão sobre o estigma e a diversidade mental?
Meu trabalho em outros países me mostrou o quanto a sociedade desempenha um papel importante na formação de nossas experiências de sofrimento, incluindo como falamos sobre nosso sofrimento. O autismo era extremamente raro na Coreia do Sul, e agora tem uma prevalência muito alta, não porque os médicos eram ignorantes ou não estavam bem treinados, mas porque não estavam enquadrando a constelação de sintomas que hoje chamamos de autismo sob essa categoria. As crianças tinham muitos outros diagnósticos, e em muitos casos, nenhum diagnóstico. Mas quando novas categorias surgem – e muitas vezes isso acontece à medida que as ideias se espalham globalmente a partir de centros científicos como os Estados Unidos e a Europa ocidental – as pessoas tentam usá-las. Isso aconteceu com o autismo nos EUA nos anos 2000 e aconteceu na Coreia nos últimos dez anos mais ou menos. Fico impressionado com o quanto pode mudar tão rapidamente, e não porque hoje há mais pessoas com os sintomas do autismo, mas porque há mais pessoas com esses sintomas que chamamos de autistas.
No sul da África, fiquei impressionado com como uma pessoa poderia ter um diagnóstico em um local e depois outro em outro lugar. Conto a história de Tamzo, que tem um diagnóstico de esquizofrenia em uma ONG escandinava, mas a apenas 20 quilômetros de distância, em sua aldeia, as pessoas dizem que ele está possuído por um espírito. Um diagnóstico é melhor que outro? Provavelmente não, porque o diagnóstico fornece um quadro de compreensão em ambos os lugares. A ONG usa o diagnóstico para dar a Tamzo medicamentos que aliviam seus sintomas; a aldeia o apoia como vítima de malevolência sobrenatural. Os diagnósticos só funcionam para motivar o cuidado quando fazem sentido para nós.
Por fim, qual mensagem você gostaria que os leitores levassem consigo após ler “Ninguém é Normal”? Como podemos começar a mudar a forma como encaramos os transtornos mentais em nossa sociedade?
Gostaria que as pessoas entendessem que normalidade e anormalidade são polos em um amplo continuum, polos que ninguém habita. Estamos cada vez mais percebendo que o normal é uma ilusão prejudicial que nossa cultura criou. E estamos reconhecendo que os transtornos mentais são mais comuns do que costumávamos pensar e que eles afetam a todos nós – seja individualmente ou por causa de nossos relacionamentos com os outros. De fato, é impossível imaginar que haja alguém desconectado (ou imune) da doença mental. É uma questão de grau, todos nós estamos sempre em algum lugar em um espectro de doença e, ao longo de nossas vidas, nos movemos ao longo dele.
Também estamos percebendo que é a nossa sociedade, não a natureza, que torna as coisas anormais ou incapacitantes. Muitas diferenças humanas são patológicas ou incapacitantes apenas se a sociedade as tornar assim – como a pessoa em uma cadeira de rodas que é “incapacitada” apenas quando o ambiente não tem rampas ou elevadores.
LEIA TAMBÉM
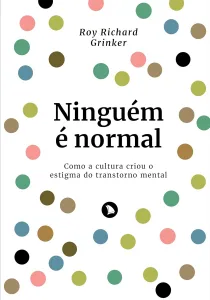






























Os comentários são exclusivos para assinantes da Vida Simples.
Já é assinante? Faça login