Muitas formas de ser mãe
Tornar-se mãe. Histórias sobre o maternar reúne mulheres, de diferentes lugares do país, com vivências e histórias sobre as diferentes maternidades.

Tornar-se mãe é um desafio que dificilmente pode ser mensurado. Noites em claro, dias corridos, fins de semana cansativos. Mas isso pouco anula os prazeres, momentos de alegria, conquistas e partilhas no almoço de domingo. No sertão baiano, na capital paulista e na periferia do Rio de Janeiro, as maternidades são construídas a partir de redes, da diversidade, mas também da solidão.
Pouco mais de 326 km separam Euclides da Cunha e Salvador, trajeto percorrido durante anos por Maria Karina. Do sertão baiano à capital, ela se dividia entre exames, diagnósticos e procedimentos cirúrgicos. Incertezas que se emaranhavam em sonhos e esperança. “Minha vida se resumia a entrar e sair de consultórios. Eu vivia constantemente com medo.”
Na zona oeste paulistana, Marcela e Melanie caminham pelas ruas da cidade ao lado de Bernardo e Iolanda. Os filhos sempre foram o sonho das mães desde as primeiras conversas sobre maternidade. “Quando eu conheci a Mel e vi nela o interesse de constituir uma família comigo e engravidar, percebi que um desejo duplo tornaria as coisas mais fáceis.”
Do outro lado da cidade, na zona sul, Claudia Pereira se dividia entre três empregos em uma jornada solitária para garantir a vida que planejou para Guilherme e Vinícius, também gêmeos. Disputas judiciais, rotinas exaustivas e o tempo escasso fizeram com que a maternidade fosse um período desafiador. “Quando meus filhos conquistaram coisas importantes, eu sempre pensava: ‘Nossa, eu não tenho para quem ligar.”
Na capital carioca, Juliana Kaiser se divide entre o trabalho como pesquisadora e as vivências da maternidade preta em um Brasil racista. “A gente vive em um país que permite que crianças não tenham a mesma vida ou vivam muito pior do que crianças brancas apenas pela cor da pele.”
Mãe fora da caixa
Antonia nasceu e Karina já não entendia o que havia acontecido ali. O momento tão especial de ter o primeiro contato com a filha foi substituído pelos olhares incompreendidos da equipe médica. Daniel, seu companheiro, tentava digerir as rápidas conversas entre os profissionais. Antonia tinha sinais sindrômicos visíveis, segundo a pediatra.
A família havia saído de Euclides da Cunha, uma cidade de 60 mil habitantes no sertão baiano, para Salvador. “Eu engravidei em 2015 e fazia tudo na capital, porque tinha medo de ter uma gravidez de risco”, conta Karina.
“A verdade é que ninguém está preparada para a maternidade. Ainda mais atípica”, completa a mãe. Os sinais apresentados por Antonia mostravam que ela nasceu com a Síndrome de Langer-Giedion, uma alteração genética rara e ainda pouco estudada.
Foram longas viagens a Salvador, diferentes especialistas consultados e um emaranhado de emoções. Antonia precisou de cardiologistas em uma cirurgia arriscada para a reparação de um problema no primeiro ano de vida.

Calma
Estar com o peso ideal garantiria maiores chances de sobrevivência. “Eu oferecia de tudo e ela se negava. Antonia não mastigava.” Calma, essa foi a palavra tatuada entre o polegar e o indicador de Karina na mão direita. As crises de choro, os medos e a aflição faziam a mãe se desesperar. “Foram anos até chegar a um cardápio que fosse aceitável para ela.”
A rotina da família resumia-se a percorrer os 326km entre Euclides da Cunha e Salvador em busca de especialistas. Aos dois anos e meio, um novo diagnóstico. Antonia é autista e precisava de acompanhamento profissional e terapias. “Algum pecado eles cometeram: a menina agora também é autista!”, comentavam os moradores da pequena cidade baiana.
Os choros iniciais – já que Antonia precisava de acompanhamento médico na capital – foram transformados em motor de criatividade. Montou-se uma estrutura em casa para que a menina tivesse acesso às terapias necessárias. Antonia hoje ri, caminha, brinca e desenvolveu seu cardápio alimentar, ainda que seletivo.
“O que me assombra é que todos ali parecem felizes!”, a cidade dizia. No caminho, Karina enfrentou longas viagens do sertão ao litoral, foi demitida do trabalho, viu a filha passar por cirurgias e exames delicados, passou pelo falecimento do pai – avô de Antonia – e pelas incertezas sobre o futuro da criança.
“Não gosto de falar da Antonia como uma heroína”, explica. “Não quero fazer isso, eu quero mostrar a minha filha como ela é.” No Instagram, Karina compartilha o dia a dia sobre o maternar de uma criança neurodivergente. Se chama Maria de Antonia, um trocadilho típico do sertão nordestino.
“A minha intenção é mostrar que há a possibilidade de ser feliz maternando uma criança com deficiência”

Aquela que (não) é mãe
Cinco foram as batalhas para que Marcela Tiboni conquistasse a maternidade dos filhos Iolanda e Bernardo. Precisou enfrentar a direção do hospital para que amamentasse os gêmeos, gestados pela esposa Melanie. Passou invisível em um documento oficial do Governo Federal porque exigia a existência de um pai para a criança. Não, são duas mães, ora.
As atendentes de um Poupatempo em São Paulo não sabiam como incluir duas mães no RG dos filhos. O último choque, no registro oficial do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), apenas Melanie é reconhecida como mãe das crianças.
“Da mesma forma que a sociedade impõe o corpo feminino à gestação, ela exclui o corpo lésbico ou bissexual de viver uma maternidade deste tipo”, explica Marcela. A família, que vive na zona oeste da capital paulista, enfrenta as incompreensões do Estado em reconhecer uma maternidade lésbica.

Gestações
Os olhares de incompreensão e julgamento nas ruas são ignorados por Marcela e Melanie, que já se acostumaram, mas não naturalizam a lesbofobia do cotidiano. E, apesar da gestação ter sido vivenciada por Mel em sua barriga, Marcela gestou junto o livro Mama: um relato de maternidade homoafetiva (Dita).
“Meus livros foram escritos de forma visceral para que servissem como um processo de maternagem.” A escritora também deu à luz a Maternidades no Plural (Fontanas) e Desmama (Dita).
Para ela, o Dia da Família tem mais significado e importância do que datas como o Dia das Mães. “Não há uma comemoração com alardes, a gente faz um almoço em família. Não tem troca de presentes”, explica. Por isso, ela e Melanie também buscaram uma escola para os filhos que fosse aberta à diversidade e tratasse essas datas com empatia.

VOCÊ PODE GOSTAR
– O que o seu mapa astral diz sobre maternidade
– Bebê arco-íris: a alegria e leveza que uma criança traz para a maternidade
– Com gravidez de gêmeos aos 48 anos, médica escreve sobre maternidade
Nasceu, e agora?
Era sete de junho no outono paulista quando os gêmeos Guilherme e Vinícius vieram ao mundo. Claudia havia feito planos diferentes antes da gestação. Decidiu buscar oportunidades fora do país.
“No entanto, eu comecei a achar que havia algo muito estranho com o meu corpo, alterações que não eram tão comuns”, explica a jornalista. A gestação trouxe mudanças corporais, físicas e sociais. Quatro meses depois do nascimento dos gêmeos, a relação com o pai das crianças chegou ao fim. Claudia entrava na estatística das “mães solo”.
Enfrentou dificuldades financeiras, o abandono paterno dos filhos e batalhas judiciais por uma pensão justa. Percorria a cidade e enfrentava três empregos diferentes. “Foi um período duro, de grana muito curta. Eu tinha de escolher qual conta iria pagar.”
Ao longo da maternidade, passou pela solidão, amizades se afastaram e mergulhou em uma rotina que se resumia aos filhos. Trabalhou para que nada faltasse, em nenhum momento. Mas o ser mãe foi percebido mesmo na vida dela quando, sem dinheiro, precisou ir ao hospital com um dos filhos aos 41°C de febre no meio da noite.
“Moça, para onde você vai?”, perguntou o taxista que a esperava na rua. Sem dinheiro, não havia aplicativos de transporte ou smartphones. Explicou a situação, “eu prometo que passo em um caixa eletrônico e te pago na volta”. “Não precisa falar nada. Entra, entra, entra, eu te levo”, disse o taxista. Ali, naquele dia, Cláudia percebeu o quão duro era ser mãe solo.
Solidão na maternidade
“Eu sempre me senti muito sozinha, muito solitária, porque quando meus filhos conquistaram coisas importantes, eu sempre pensava: ‘nossa, eu não tenho para quem ligar”, conta. Sua prima, Célia, que a considera uma irmã, é uma das poucas pessoas com quem divide tudo. E não foram poucas as conquistas.
Os filhos, que estudaram boa parte da vida em escolas públicas, concluíram o curso de inglês e receberam a aprovação no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) para cursarem o ensino médio. Hoje, Guilherme e Vinícius são estudantes da Universidade de São Paulo (USP), considerada a melhor do país e a segunda da América Latina.
“Os momentos mais emocionantes que tive na vida foram as conquistas estudantis dos meus filhos, pois era também um pouco – ou muito – da minha conquista como mãe solo.”

A pele que marca
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 73% da população empobrecida do país é formada por pessoas negras. Dentre elas, boa parte são mulheres. “Então, temos mulheres, entendidas internacionalmente pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) na pobreza, e a maioria delas é mãe solo”, explica Juliana Kaiser, especialista em ESG e professora de Diversidade na UFRJ.
Há mulheres com baixo nível de escolaridade, que ocupam cargos como faxineiras e empregadas domésticas, trabalham em jornadas exaustivas e dificilmente conseguem superar esse ciclo. “Por isso, há uma sensação de que é uma corrida dos ratos. São mulheres que estão na faixa de 30 a 40 anos, trabalham desde os 14 e não vislumbram uma possibilidade de aposentadoria”, destaca a pesquisadora.
As crianças crescem em um ambiente árido, de difícil acesso à educação de qualidade e precisam desenvolver autonomia desde muito cedo. Por isso, assumem tarefas de cuidado dos irmãos mais novos ou trabalham desde o início da adolescência. “Mas qual o momento em que a gente interrompe esse ciclo e vira o jogo?”

Maternidade preta
Juliana, que também é mãe, decide enxergar a maternidade preta de forma coletiva, mas é impossível não falar das vivências pessoais. Precisa explicar ao filho como se comportar na rua, como agir diante da polícia no futuro e como enfrentar o racismo no dia a dia.
Ela, que sempre adotou a estratégia de andar com notas fiscais na bolsa – afinal, uma pessoa negra precisa provar à polícia que aquele bem material é dela – não perdeu o hábito, apesar de hoje morar fora do país.
“Eu morei há pouco tempo na Europa e por questões de sustentabilidade ambiental, quase não há emissão de recibo em papel. Mas eu me vi diversas vezes voltando para pegar a nota fiscal. Afirmava aos atendentes que era para controle pessoal, mas é porque estou condicionada a viver dessa forma.”
Juliana, que atualmente desenvolve sua pesquisa de doutorado, explica que é necessário haver incentivos financeiros e políticas públicas que rompam o racismo estrutural no país. “A gente vive em um país que permite que crianças não tenham a mesma vida ou tenham uma vida muito pior do que crianças brancas apenas pela cor da pele.”
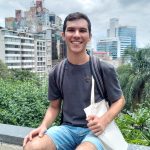



















Os comentários são exclusivos para assinantes da Vida Simples.
Já é assinante? Faça login